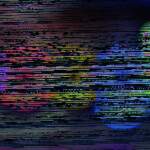O prazer nefasto em queimar

Quando eu estava no primeiro período do curso de Letras, em 2006, um amigo me entregou o DVD de um filme de 1966 que eu não conhecia. A obra era Fahrenheit 451, dirigido por François Truffaut. Ele me disse: “todo mundo que cursa Letras tem que ver esse filme”. Pois agora, 15 anos depois, eu digo que todo mundo, cursando Letras ou não, tem que ver esse filme.
Infelizmente, eu também penso, olhando com profunda tristeza para o Brasil de 2021, que poucas pessoas, nesse nosso enorme e vasto e múltiplo, mas também desigual, injusto e tacanho país, tiveram a oportunidade de assistir a esse e a tantos e vários outros filmes tão potentes quanto.
Escrevendo esta coluna à sombra dos últimos acontecimentos aterradores em nosso espaço geográfico – que não me parece um país, muito menos uma nação, e que a cada dia se assemelha muito mais a um apanhado confuso e criminoso de milicianos, militares, corruptos e populares dopados ou fanatizados ao redor – me vem à mente uma frase que li, em 2016, em uma série de postagens que protestavam contra o golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff. Reescrevo: “cada cinema que deu lugar a uma igreja nos anos 90 significava uma pequena derrota do Iluminismo que a gente viu e deixou passar”. Nós vimos. Nós deixamos passar.
“Então, vê agora por que os livros são tão odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. As pessoas acomodadas só querem rostos de cera, sem poros, sem pelos, sem expressão.” Escreve Ray Bradbury, no livro de mesmo nome, que inspirou o filme. A história distópica narra os acontecimentos na vida do bombeiro Montag – a profissão de bombeiro, nesse futuro imaginado por Bradbury, não atua mais na sociedade para apagar os incêndios e salvar as pessoas em perigo – nesse futuro insólito, os bombeiros agem como uma espécie de cães farejadores, de polícia ideológica: eles investigam, encontram e queimam livros, punindo as pessoas que se atrevem a guardar, trocar e ler quaisquer obras e materiais impressos.
Por isso, a referência presente no título: 451 graus Fahrenheit, ou 233 graus celsius, é a temperatura de combustão do papel comum. É quando exposto a esse grau de calor que o papel queima, se contorce e vira cinza, levando com ele todo o legado, a memória, a cultura e o rastro da nossa civilização, da nossa história, da nossa humanidade. O significativo ponto de combustão do papel é o nível de calor necessário para morrermos, uma página por vez, enquanto sociedade.
Ora, eis o paradoxo: é sempre nos momentos em que a barbárie ganha espaço, quando governantes adotam posturas ditatoriais e fascistas, governantes estes que esbravejam contra qualquer produção cultural – sempre chamadas de inúteis e irrelevantes. Governantes que ridicularizam e agridem artistas, professores, pensadores e produtores culturais, que atacam universidades e incitam a população fanatizada a se levantar e exigir empregos (que são imprescindíveis), mas a rechaçam a arte, a lutar pelo direito de consumo em detrimento a qualquer direito social e de acesso justo aos bens culturais. Que alegam defender a “família”, como se esta estivesse ameaçada pelos saberes considerados depravadores, pelas mentes emburrecidas e utilitaristas, que exaltam a religião manipuladora (e não os verdadeiros atos de fé) como único meio e espaço para onde as mentes e corações humanos podem se voltar. Pois é justamente nesses momentos que governantes violentos e população fanatizada apontam sua fúria para bibliotecas, cinemas, teatros e obras de arte.
Foi assim quando o bispo Teófilo decretou a queima da biblioteca de Alexandria, foi assim durante a Inquisição, foi assim quando queimaram livros em Berlim, durante o Nazismo, foi assim quando os talibãs derrubaram os Budas de Bamiyan, no Afeganistão. A escalada autoritária sempre volta sua atenção e sua força contra grandes obras-mestras da humanidade.
A verdade é que tais governos totalitários sabem e temem a força intrínseca – e de forma alguma inútil – dos monumentos de beleza, dos sistemas de pensamento que instruem e libertam os homens, de todos os testemunhos gravados em livros, filmes, quadros e arte em sua mais alta expressão e, exatamente por serem depósitos dessa força elucidativa e por guardarem, também, a memória histórica sobre todos os ditadores do passado, que podem servir exatamente de aviso e de resistência contra novas/velhas investidas de poder e autoritarismo: é por isso que a arte é, para esses autoritários, um alvo a ser destruído. Não é por ser inútil – é por ser absolutamente relevante. É por ser a essência daquilo que constrói seres humanos, cidades, estados e países atentos e fortes para resistirem às investidas criminosas de homens pequenos e seus projetos violentos de poder.
Nossos museus estão queimando, um por um. Nossas universidades, a cada dia, recebem menos verbas. Os livros, cada vez mais caros e inacessíveis. Os currículos e estudos dos nossos pesquisadores desaparecem dos bancos de dados. E a Cinemateca Brasileira, depois de mais de um ano de abandono, arde em chamas. Há muitas maneiras de matar uma pessoa. Mas só uma forma de matar a nossa humanidade, a nossa história, a nossa consciência coletiva – é atacando os saberes acumulados, a cultura e a arte.
Quando os nazistas ocuparam Paris, o diretor da Cinemateca Francesa, Henri Langlois, escondeu milhares de filmes em residências, sótãos e, até mesmo, enterrou alguns rolos de filmes guardados em latas. Foi isso que permitiu aos franceses salvarem uma boa parte da história do seu cinema, da história de si mesmos. É chegado o momento de começarmos a procurar os meios de fazer o mesmo por aqui, antes que nossos acervos sejam queimados e, com eles, a nossa própria identidade também vire apenas um monte de cinzas.