A crônica acabou ou resiste em tempos de lacrações?
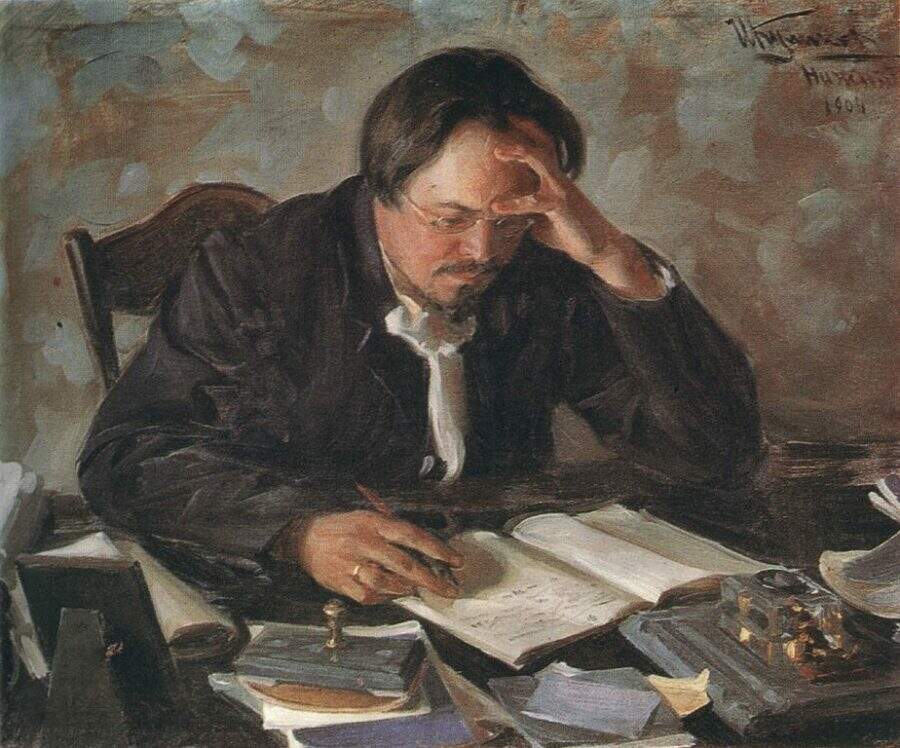
Sobreviverá a crônica brasileira, aquela na versão lírica da turma de Paulo Mendes Campos & grande elenco, aos tempos da lacração absoluta? Fazia a pergunta, em voz alta, quando o carteiro tratou de me responder, com a entrega do novo livro do curitibano Luís Henrique Pellanda, “Na barriga do lobo” (editora Arquipélago). Mesmo distraído com o ploc ploc do plástico bolha da embalagem, abri, ao acaso, na página 62: “Fé eu nunca tive, nem me cobrem. Criança, ao rezar, já trocava as vírgulas por pontos de interrogação: Pai Nosso? Que estais no Céu?”
Agora, de olhos bem fechados, puxo um volume do caos da estante — meu método para responder, com um só livro, às grandes dúvidas da humanidade, como esta sobre o destino dos cronistas. Opa. Olha só o que pego: “O homem azul do deserto” (Malê), de Cidinha da Silva, mineira de BH. Página 31, uma das minhas preferidas, com os suburbanos corações ouvindo “Manera Fru-Fru, manera” e outras canções tristes na vitrola.
Poderia citar, de olhos bem atentos, outras tantas coletâneas da escritora. Melhor samplear o contista carioca Geovani Martins (“O sol na cabeça”) em um fragmento sobre ela: “Entre passarinhos e motoboys, o padre pop e uma velhinha tarada, Luiz Melodia e os Tuaregs, parece que nada escapa ao olhar de Cidinha”.
Sigo respondendo ao ritmo do carteiro, please, mr. Postman. “O espalhador de passarinhos” (Arquipélago), de Humberto Werneck, mineiro como os melhores do ramo. O livro contém um pequeno defunto que leva os óculos consigo para ver o nada. Nunca houve tanta decência ao rés do chão, professor Antônio Cândido. Que beleza.
Em “A lua na caixa d´água” (Malê), com ecos de Aldir Blanc no botequim, Marcelo Moutinho traz seu “sim” lá de Madureira, Rio, simmm, a crônica passa muito bem, obrigado, não me venha com suas cascatas e mumunhas. Segue o bonde.
Sempre há um apocalipse anunciado no caminho dos cronistas, naquele momento em que flanamos em busca de uma cena besta na esquina ou de um assunto para cumprir a encomenda. O último obituário mais significativo que lembro foi em plena pandemia, 18 de dezembro de 2020, quando a Folha de S. Paulo decretou, no embalo de uma efeméride: “Rubem Braga, morto há 30 anos, levou para o túmulo a crônica clássica brasileira”.
Óbvio que havia uma certa crise no ar. Muitos colegas de ofício se queixavam que o lirismo ou o humor haviam sofrido um sequestro por parte da realidade chata e da política. Estávamos mais para articulistas metidos a ranzinzas do que para os sabiás do velho Braga. A urgência das tretas e as trevas do bolsofascismo nos arrastaram aos textões, vixe.
Naquele momento, cobrado por alguns românticos leitores, mandei a autocrítica: Cadê o amor que estava na minha crônica? O gato esfomeado da realidade comeu. Cadê o lirismo vagabundo sem compromisso com a hora do Brasil? Virou ração do mesmo insaciável felino.
Li um questionamento parecido em um texto da Tati Bernardi (Folha), no qual ela reclamava da falta da pegada braguiana. A Maria Ribeiro (Veja Rio) igualmente registrou o incômodo. Ao Antonio Prata (Folha), sobrou o puxão de orelha paterno do Mário Prata — mestre do humor e da leveza —, que rogou para que o rebento largasse os temas da intriga política.
Poucos como o Pellanda (Plural), Joaquim Ferreira dos Santos (O Globo), Ana Miranda (O Povo), Martha Medeiros (Zero Hora) Fabrício Carpinejar (UOL), Socorro Acioli (Diário do Nordeste), Samarone Lima (Estuário) mantiveram a dose reforçada de lirismo, humor e graça, quase inabaláveis. O Veríssimo não vale. Bem acima dos mortais. Completou 50 anos no ofício com uma categoria digna dos melhores momentos do Falcão no seu Inter de Porto Alegre.
E o que falar de um cronista baiano que mantém a linha gregoriana do “ridendo castigat mores”? — rindo, corrigem-se os costumes ou, em uma tradução mais livre, com humor e fuleragem a gente escapa dessa merda toda. No livro “Ingresia” (independente), Franciel Cruz mostra que não carecemos ficar presos a draminhas burgueses e existenciais. Dá sim para meter poesia e política na crônica popular brasileira.











