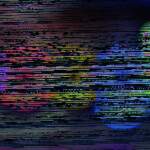Como resolver um assassinato

O zelador abre um pequeno, sem móveis e bem cuidado, apartamento nos subúrbios de Baltimore, MD. Passam pela porta até o conjugado de sala e cozinha os detetives William “Bunk” Moreland e James “Jimmy” McNulty. Bunk carrega em uma mão uma pasta da divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Baltimore (BPD), e na outra seu inseparável charuto; muito bem vestido, comparado à maioria dos seus colegas com seus ternos baratos e sem corte, Bunk, mesmo não tendo um dos corpos mais esguios do esquadrão, é puro charme com seu sobretudo preto, gravata preta com detalhes azuis e uma presilha dourada no meio, ornando com uma camisa azul que ameniza o visual sério do investigador.
Atrás dele, McNulty (Jimmy apenas para os mais íntimos), com uma mochila na mão direita, está mais de acordo com o resto dos detetives encarregados dos mais hediondos crimes da região oeste de Baltimore; sua jaqueta de couro surrada, sua gravata vermelha pequena demais, sua camisa e calça sociais, provavelmente escolhidas a esmo em alguma loja de departamento qualquer, pesam sobre uma figura desprovida de qualquer elegância (mas não sem charme, como veremos em outros momentos da série).
Eles vão direto ao pequeno quadrado de paredes que separa a sala da cozinha. Bunk abre a pasta e olha para fotos de uma jovem negra, entre 18 e 20 anos, deitada naquele mesmo chão de cozinha, sem vida por causa de um ferimento de bala que facilmente se percebe perto de seu ombro esquerdo. Nesse momento, Bunk não consegue conter sua frustração com a cena e solta um “Ohhh, Fuck”, ao que seu parceiro prontamente assente com um “Motherfucker”.
Fica a dúvida se essa frustração é relacionada à juventude e beleza da moça ou ao fato de que o trabalho anterior do detetive Keeley foi dominado pela preguiça; eles praticamente vão ter que resolver um caso sem testemunha, sem prova material, ou seja, sem qualquer tipo de trabalho investigativo prévio. A única informação dada é que alguém viu um tal de “Dee” nas redondezas, no dia do crime. Esse “Dee” pode ou, muito provavelmente, não pode ser D’Angelo Barksdale, sobrinho de Avon Barksdale, o principal traficante alocado nos projetos residenciais do lado oeste de Baltimore e, portanto, um dos maiores criminosos da cidade. E é só por essa vaga chance que McNulty e Bunk estão ali, convencidos pelo sargento Jay Landsman a entrarem nesse matagal sem saída, de um crime sem provas.
Mas tendo em vista que os dois prezam pelo que é conhecido como “good police”, a vontade de resolver os crimes, por mais complicados que sejam, eles logo partem para tentar compreender o que aconteceu ali, sob os olhares atentos, mas um pouco confusos do zelador. Primeiro se dividem, McNulty fica encarregado de checar a ficha da vítima e vai para o balcão perto da janela para fazer isso, enquanto Bunk coloca as fotos do crime no local onde ele ocorreu. Pelo que entenderam, o disparo foi feito de dentro do aposento com o projétil saindo pela janela. Ambos terão que reconstruir de trás para frente o momento exato do assassinato. Menos como uma reclamação e mais como um gatilho para reflexão, Bunk solta mais um “Fuck”.
McNulty, olha para a ficha da moça, procurando por sua altura, para assim conseguir saber mais ou menos sua posição na hora que o disparo foi feito. Além disso, a ficha confirma a nossa suspeita e a idade dela era 20 anos. Bunk continua com seu trabalho de espalhar as fotos, enquanto seu cérebro está a todo vapor, assim como sua língua que, entre os dentes que seguram o charuto, solta vários “Fuck, fuck, fuck”. O zelador, menos confuso que antes, mas ainda mais curioso, observa atentamente o trabalho dos dois.
McNulty percebe, através da ficha da vítima, que o ferimento de saída é abaixo das suas costelas de trás, na região dos rins; agora é a vez dele soltar um “Wafuck”, enquanto tenta entender, com os dedos no próprio corpo, nos locais dos ferimentos indicados nas fotos, o movimento da bala no corpo da menina. Bunk, ainda na sua sinfonia cerebral de “Fuck’s”, faz marcações no chão que indicam o posicionamento do corpo da vítima após o crime. McNulty retira seu principal instrumento para o dia, a trena, que ao ter sua fita métrica puxada, logo se solta, batendo com vontade no dedo do detetive: mais um “Fuck”.
Os parceiros trocam de posição e agora entendemos o modus operandi deles, enquanto um se preocupa com os atores da cena – o criminoso que efetuou o disparo e a inocente que o recebeu -, tentando reconstruir sua movimentação; o outro refaz a mise-en-place dos elementos criminais, a posição da moça e a posição do tiro na janela. Bunk marca no vidro a marca do tiro e coloca, no parapeito, a foto que mostrava a janela com o buraco do tiro.
McNulty, por sua vez, tenta achar a posição da vítima da maneira que imaginaram a cena, com ela de costas para a janela. Ele retira sua arma e aponta para si, tentando achar a posição e distância que ela teria que estar para causar os ferimentos de entrada e saída que as fotos mostram. Mas ele logo percebe que, fosse esse o caso, pela altura da moça e pela posição do ferimento de saída, tanto o autor do disparo teria que ser gigante, quanto a bala teria que percorrer um caminho improvável para poder sair pela janela; Bunk percebendo o mato sem cachorro não perde a chance: “Fuuuuck”.
McNulty tenta outra posição: se agacha, ficando na posição de execução, e repete o movimento com a sua arma. Agora, se o problema da altura do atirador se resolve, ainda fica a questão da bala, que cairia no chão e não faria o buraco encontrado na janela. McNulty não gosta de sua reflexão e, ao procurar uma bala improvável no chão, deixa escapar um “Oh, fuck”. Bunk, no entanto, chega ao ponto máximo do seu movimento cerebral, olha com desconcerto para o local onde estava o corpo, depois se vira e parece encontrar alguma coisa na janela que não se havia percebido antes. “Motherfuck”.
Ele pega a foto que havia colocado e mostra que, além do tiro no janela (“Mohhfuck”), há uma marca em seu parapeito que só pode ter sido feita pela mesma bala (“Mohhfuck”). Na janela real, ele tira sua arma e coloca na posição da marca do tiro. McNulty põe-se em posição e, de novo com os dedos, refaz o movimento da bala. Bunk olha para ele com o olhar de “é isso” e recebe uma confirmação com um aceno de cabeça de seu parceiro.
McNulty olha para as fotos colocadas na posição onde o corpo estava e percebe algo importante, logo extravasado com um “Fuckity, fuck, fuck, fuck”. Entendendo tudo, arremata “Fucker”. Ele se abaixa e começa a procurar o projétil onde deveria estar, na parede ao lado da geladeira ou no chão, na divisa com a sala. Sem sucesso, ele e seu parceiro agora se dividem nas lamentações: “Fuck, fuck, fuck, fuck”.
Mas McNulty percebe, em uma das fotos, uns restos brancos no chão. Bunk olha e, entendendo logo, faz todo mundo entender também com um alto e claro “Motherfucker”. Seu parceiro abre a geladeira e logo vê um buraco recentemente coberto com resina (“Fuckin’A”). Com um alicate, reabre o buraco e lá dentro encontra o projétil amassado que tanto buscavam. Bunk segura o projétil com o alicate: “Fuck me”. Tentando entender por que ninguém havia percebido isso antes, McNulty refaz mais uma vez o caminho da bala, da janela até a geladeira, e deduz que, no momento em que a bala bate na geladeira, a geladeira se fecha com a força gerada pelo ricochete. Bunk concorda com a descoberta do amigo e parceiro.
Faltando agora apenas achar o estojo do projétil, eles vão para fora do apartamento, até a janela. McNulty aponta sua arma na direção da marca feita por Bunk, dá duas batidas com a ponta do revólver no vidro, indicando de que maneira o criminoso chamou a atenção da vítima, e solta um “Pow”, onomatopeia que é a única palavra utilizada pelos policiais que não pertence à família “fuck”.
Bunk utiliza a trena para saber a distância percorrida pelo estojo na hora do disparo e, encontrando-a, passa a procurar, junto com McNulty, o pequeno metal que resolveria boa parte dos problemas. Procuram por pouco tempo na grama até Bunk achar o pequeno estojo. Ele o mostra feliz entre os dedos para McNulty, que sorri de volta ao olhar o troféu, recebido por realizar um trabalho bem feito. Observando os dois, o zelador, com aquele olhar admirado, pertencente aos espertos que conseguem sentir prazer ao ver alguém praticar com destreza a sua arte.
***
Tudo isso que escrevi – que vai demorar sabe-se quanto para o leitor passar os olhos – é a descrição mal feita de uma cena deliciosa, que não dura mais que 5 minutos, de The Wire, a melhor série do que se acostumou chamar “a era de ouro da televisão”. Não estamos na era de ouro da televisão, não temos Hitchcock e Rod Serling trabalhando, e só esporadicamente Michael Mann ou David Lynch se aventuram nas séries. Além disso, estamos longe das televisões italiana, alemã, inglesa, francesa ou portuguesa das décadas de 60 e 70.
Mas se existe algo que, mesmo tendo uma direção absolutamente banal, me deixa impressionado, é essa maravilha criada por David Simon, sobre as drogas de Baltimore e a consequência que elas causam nas pessoas. É a série que inicia com uma cena quase shakespeariana que define e condena em 5 minutos o “american dream”; que tem a frase mais famosa sobre a “guerra às drogas”: “Siga as drogas e o que você vai achar são viciados e traficantes, siga o dinheiro e você não sabe onde vai parar”.
Sem personagens absolutamente fixos, sem protagonista – talvez ele seja a própria cidade de Baltimore -, a série esgueira-se pelos esgotos institucionais (polícia, prefeitura, as docas, o sistema escolar, o sistema eleitoral, a mídia e o próprio crime organizado). E constrói um elenco de personagens com características únicas, que podem ser desenvolvidos ou em um episódio ou em pequenos momentos, atravessando todas as temporadas – ou até mesmo em elipses destruidoras -, mas sempre bem definidos e com um propósito narrativo.
Onde ver The Wire? Bom, recentemente a chegada de mais um gigante do streaming trouxe, junto com a quantidade exorbitante de lixo que acompanha esses conglomerados multimilionários – o mais próximo que o século XXI construiu até agora de Marx, Balzac e Dickens. Perder isso é deixar de entender a história como ela nos apresenta hoje. Sem perder a diversão e o mesmo assombro que o zelador na cena descrita acima, tem com o artesanato, o trabalho simples, mas bem feito, de contar a história de um assassinato ou de uma cidade inteira.