Lágrimas de cinema
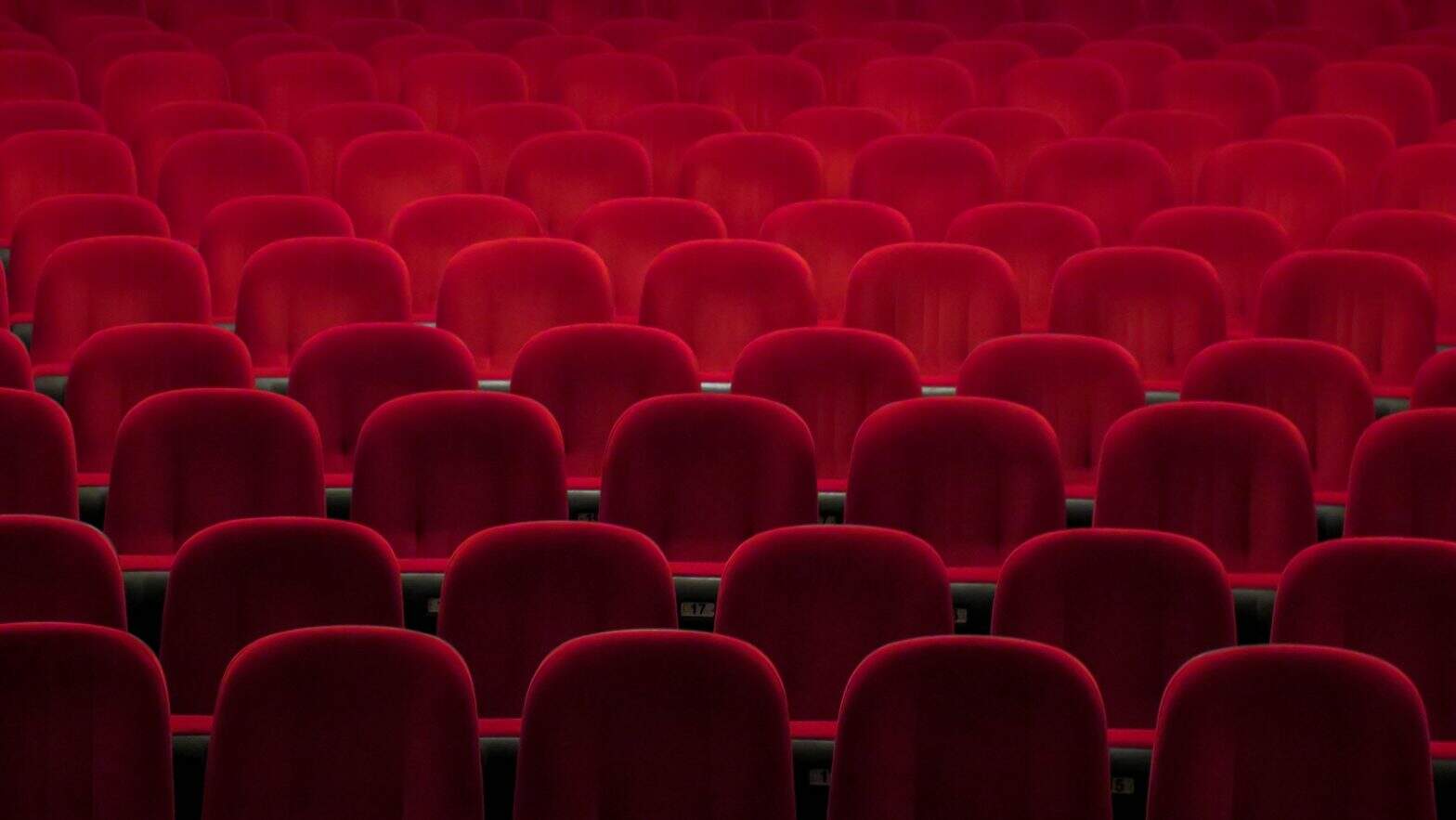
Sobre a saudade de ser tomada pela atmosfera densa e pelo encadeamento de imagens e sons da sala de cinema
Raisa Christina
raisa.christina@gmail.com
Os olhos não são feitos apenas para ver,
são feitos também para chorar. (…)
Por que esse sintoma que consiste em
derramar água através dos olhos?
Jacques Derrida
Desde o começo do ano passado fui obrigada a ausentar-me da sala de cinema, lugar para onde me dirigi religiosamente, como as senhoras que vão à missa no interior, todos os finais de tarde de domingo da última década. Ou às quartas-feiras à noite, quando o ímpeto da vontade me domava e eu podia fugir para viver clandestina outra vida por um par de horas bem no meio da semana. Tão doída como a saudade de algumas pessoas é a saudade desse espaço habitado também por micro-organismos mudos, ácaros e fungos que se espalham pelo carpete e pelo revestimento de poltronas, paredes e teto. O ambiente é úmido porque a luz solar não entra e também porque se chora lá dentro. Eu costumava ir direto para o banheiro ao deixar a sala, e lá tentava em vão me refazer da cara inchada, esvaziar o muco das narinas, disfarçar um pouco a vermelhidão dos olhos.
Antes da reforma do meu cinema preferido a poucos quarteirões do mar, havia uma poltrona na terceira fila, onde se podia perceber maior desgaste em pedaços do assento, nos quais o couro artificial descoloria. Aquilo era a marca que meus glúteos e minhas coxas foram imprimindo no decorrer dos anos, denunciando o atrito, o peso, a presença assídua da cinéfila menos técnica e mais sentimental que fui me tornando. Apesar de saber que as fileiras do meio são aquelas de referência para os ajustes de volume, preferia me acomodar na frente porque gostava de deixar a cabeça levemente inclinada para cima, apoiando-a na saliência da poltrona. Com a prática de yoga, entendi que, quando o queixo sobe e a nuca desce em direção ao pescoço, a tendência é dar vazão ao grande fluxo de pensamentos porque a parte frontal do cérebro está em plena atividade e, portanto, dificilmente relaxa.
De fato, relaxar nunca foi o objetivo no cinema. Queria mesmo era ser tomada por uma atmosfera densa, uma personagem enviesada, um encadeamento talvez sublime de imagens e sons. Era necessário levar um casaquinho ou ao menos uma echarpe porque algumas vezes eu tremia de frio e de angústia diante de certas situações aparentemente irremediáveis. Podia chorar a ponto de congestionar as vias aéreas superiores e ter de respirar com a boca aberta. O ritual me fazia bem, como se daquele modo eu investigasse minhas próprias dores para em seguida realizar uma espécie de limpeza profunda, física e espiritual, e junto das lágrimas deixasse escoar o peso dos nódulos que se entulham pelas costas. Além do mais, sempre me pareceu um charme aquele que vai sozinho ao cinema, quase anônimo e triste, a abandonar o brilho exagerado das luzes da cidade para habitar a cerração.
Por isso não tenho arquivos digitais de filmes nem o costume de assistir na televisão da sala ou deitada na cama, em frente ao notebook. Preciso estar sentada para assistir com a atenção devida, entre o estado de alerta e o transe. Sinto que me apeguei demais às dimensões da tela: quero ser tragada por ela e pousar no primeiríssimo plano, entre a cavidade do olho e o buço de Louis Garrel nos filmes em preto e branco de seu pai. Enquanto muito se fala de vantagens e variedade dos conteúdos disponíveis via plataformas de streaming, confesso que resisto um pouco e tardo a me adaptar. Porém, enquanto não se pode retornar à sala de cinema e segue-se o pacto rigoroso com o ambiente doméstico, tenho experimentado uma ou duas vezes rever filmes na boca da noite. Desligo as luzes, conecto o cabo HDMI e ativo as caixas de som.
Assim, reencontrei os dois homens que cruzam silenciosos pequenas cidades entre a Alemanha Ocidental e a Oriental na década de setenta (No decurso do tempo, de Wim Wenders); o motorista de meia-idade que perambula à procura de alguém que o ajude a enterrar o próprio corpo (Gosto de cereja, de Abbas Kiarostami); a mulher cega de lábios carnudos que trava uma conversa com o taxista imigrante pela madrugada de Paris (Uma noite sobre a terra, de Jim Jarmusch); a voz do geólogo que atravessa o sertão nordestino movido pela mágoa da separação recente (Viajo porque preciso, volto porque te amo, de Karim Ainouz e Marcelo Gomes). Agora, mais do que nunca, são os filmes de estrada que me pedem passagem. O percurso basta em si mesmo, sem finalidade: é o deslocamento pelo espaço físico como prática de errância que guarda vínculo com as viagens de dentro, intermináveis buscas por um eixo provisório.
Neste confinamento que vem se prolongando, cresce o apetite em se deixar levar de um ponto a outro no mapa pela trilha das histórias alheias. Mesmo dentro de casa – distante da arquitetura projetada especialmente para a experiência do encantamento hipnótico -, sob risco iminente das interferências de interfone com o pedido do Ifood, do sobressalto no sono da criança e do forró esganiçado do vizinho, a verdade é que o cinema ainda é possível. No íntimo, nada substitui o ritual, desde a compra de ingresso na cabine até a chegada à poltrona. Contudo, naquela sobra de espaço-tempo fílmico em que as fichas caem ou a personagem hesita e não se entrega à intuição, hoje mais que ontem, as lágrimas hão de rolar.
Raisa Christina é artista visual e escritora. Está no Instagram.








