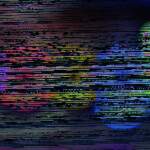Criar para não destruir

Jeanette Winterson é uma escritora que, ainda na primeira infância, foi adotada por um casal cuja mãe era fanática religiosa. Em determinado ponto, Winterson descobriu que gostava muito de ler, a despeito de sua mãe considerar ficção e poesia um material satânico. A autora fez o que é possível para crianças e adolescentes lidando com pais absurdos: passou a mentir. Winterson não foi muito estratégica. Começou a contrabandear livros para dentro de casa e esconder os exemplares debaixo do colchão.
O problema é que 72 livros começam a chamar alguma atenção e, em pouco tempo, ela estava dormindo mais perto do teto, que do chão. Um dia uma lombada ficou às vistas de sua mãe, que descobriu aquele tesouro escondido. Ela atirou os livros janela afora, derramou querosene por cima das páginas e pôs fogo em tudo.
Enquanto Winterson assistia as histórias que ela tanto amava arderem em tinta e papel, pensou: “Foda-se. Posso escrever meus próprios livros”. O episódio fundador está narrado em seu livro de memórias, com título sugestivo: Por que ser feliz quando se pode ser normal?.
Nunca queimaram meus livros. Pelo contrário, li histórias pouco recomendáveis para minha faixa etária sempre que senti curiosidade, porque as pessoas responsáveis por mim acreditavam que, se eu estava com o rosto enterrado em certas palavras, arranjaria os recursos necessários para compreendê-las. Até hoje acho uma boa pedagogia.
No entanto, de modo análogo a Winterson, mais de uma vez foi necessária, para a minha permanência psíquica, a habilidade de imaginar o mundo não como ele é, mas como ele poderia ser. E para ter esta habilidade desenvolvida, foi crucial conhecer contadores de história melhores que eu e que vieram e enfrentaram o mundo antes de mim. Sem esta competência, eu estaria, sinceramente, perdida.
Assim como Winterson, também aprendi que a imaginação é um recurso vital de sobrevivência ainda na infância. Sempre encaro com arrogância desdenhosa quando escuto alguém tratar a infância como idílio. A verdade é que, salvo raríssimas exceções, na infância você é obrigado a presenciar injustiças que, ou não pode fazer nada para impedir, ou não tem os recursos necessários para entender.
Isto quando o alvo da injustiça não é você mesmo, impotente, porque no Ocidente as crianças são encaradas como projetos de pessoas e pouco ouvidas. O status das crianças é muito baixo em nossa sociedade. Sempre que ouço um adulto saudoso demais de sua infância, penso “Pelo amor de Deus, vá sanar este esquecimento, basta ler uma Harper Lee, um Charles Dickens, um simples Roald Dahl”.
Inventar é, portanto, uma propriedade que desenvolvi pequena. Começou com noites de insônia, imaginando histórias (nunca consegui dormir direito). Depois, com diários, que sigo escrevendo até hoje. Quando criança, sentava na varanda de casa e conversava com a árvore em frente, na esperança de que ela própria me respondesse, ou algum habitante oculto aparecesse para brincar.
Escrevia feitiços inventados em papéis cuja lateral eu queimava com fósforo, para parecerem pergaminhos antigos. Aprendi cedo a me desligar do ambiente sempre que um conflito estourava. Sonhava, na infância, com passagens e jardins secretos, bons esconderijos onde eu poderia ter silêncio e sossego. Às vezes, o mais alto valor que uma criança tem é a própria imaginação.
Poemas, contos, projetos de romances, desenhos, fitas de cetim para amarrar o cabelo foram se somando a tudo que salvava meu coração conforme crescia. Todo dinheiro que me caía em mãos era gasto em livros – minha mãe costuma dizer “Camille nunca teve muita inclinação para bonecas”. Mas a vida também acontece e raras vezes ela é gentil. Somam-se novas injustiças às que você presenciou na infância, mas agora você as entende.
Sua dissidência é tratada como contravenção, porque é preciso que todas as pessoas sejam iguais e a diferença não é um valor. Invadem sua escrita. Sua imaginação passa a ser sinônimo de desobediência. E um dia você desiste. Perde a esperança. Não quer mais ser desse jeito. Não quer mais imaginar nada. Sua sensibilidade arqueja na lona, depois do nocaute.
Elizabeth Gilbert é uma escritora que compôs vários livros que considero sofríveis e um que acho realmente bom – se você confia no meu gosto literário e quer poupar tempo, ele se chama Cidade das garotas, gosto dele de verdade. Mas ela disse algo com que eu concordo em absoluto: Gilbert afirma que quando não está criando algo, muito provavelmente está destruindo algo. Toda energia represada acaba parando em algum endereço.
A questão fundamental desta afirmação é que o material mais próximo para você destruir é a si mesmo. Todas as vezes, absolutamente todas, em que a vida me pisou com muita força, eu parei de escrever, parei de desenhar e amaldiçoei minha imaginação. Prometi a mim mesma que iria ser mais normal, melhor adaptada, gerar menos ruído. E todas as vezes eu definhei. Tornei-me triste. Mergulhei no tédio, na ausência de sentido, na falta de coragem. Adoeci de realidade.
É muito difícil quando você sente que há algo importante que você precisa fazer, mas não quer, porque dói, ou porque acha que não consegue, ou porque acha que será punida se fizer. E essa coisa insiste em chamá-lo e começa a machucar por dentro quando você a ignora. A Psicanálise nomeou esse chamado como desejo.
Algumas religiões chamam de dom. Jung chamou de “anima”. Mas é senso comum que negar este impulso é sempre trágico. E ainda assim inúmeras vezes eu quero. Quero arrancar fora. Para assim não sentir com tanta força o lado impiedoso, desesperado, degradado e cruel de tudo.
Meu avô morreu quando eu tinha 19 anos. Era médico oftalmologista, uma profissão que acho dificílima, porque você lida com este sentido mágico e imensamente delicado que é a visão das pessoas. Ele sabia fazer isto, ser um oftalmologista. E uma vez me disse que, se você deu a sorte de saber fazer alguma coisa, você deve fazê-la, como retribuição ao mundo que a concedeu a você. É um conselho tão simples, quanto difícil, como é próprio de todas as coisas simples.
Tentar fugir de si mesmo, daquilo que te faz tremer de vida, provavelmente terá o efeito de te mutilar, deformando quem você é em definitivo, ou de te destruir, esteja você vivo ou morto. E você será obrigado a vivificar todas as expectativas e papéis que destinarem a você, viver a vida que outras pessoas escolheram, porque sua autoimagem não se sustenta.
A outra opção, não menos perigosa, é continuar criando, arcando com as exigências, machucados, fracassos. Percorrendo os caminhos não desbravados. Mas movido por uma disciplina mais forte e mais profunda, a reencenação de um ritual que, no meio dos naufrágios, do frio e do escuro, lembre de quem você é. E fortaleça sua fidelidade a esta chama.