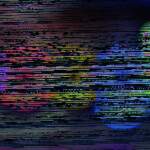Tudo que não guardei em uma fotografia

Na curva longa da Avenida Aguanambi, logo depois do prédio onde passei quase dez anos tomando café estupidamente doce e expandindo meu mapa-múndi, depois do estacionamento do hospital onde almoçava feijoada às quintas, depois da parada de ônibus onde fui fotografada por um amigo que comprou uma câmera soviética ou quase, ali, bem naquela curva, eu me lembrei dela.
Em seguida me distraí com o espelho da loja de carros. Se venho rápido demais, quase não consigo me ver no reflexo. Sei do risco de enfiar a bicicleta no poste e, mesmo assim, viro a cabeça para o lado direito. É a chance que tenho de enxergar o Himalaia que carrego no braço. Poderia descer e contemplá-lo com calma, mas não seria a mesma sensação de observar a paisagem que aparece subitamente em mim, como um lembrete. Dura um instante.
Lembrei-me de Joana porque mora ali perto, por trás do espelho. Soube que, na tarde anterior, havia convidado o homem do gás para sentar à mesa. Serviu café, bolacha quadradinha e suco de cajá. Penso no homem sentado, ouvindo uma quantidade imensa de palavras aceleradas e encadeadas no mesmo fôlego.
A Rua 116, a médica do posto antigo, o filho, a filha que foi embora, a filha que mora perto, o galeto, a irmã, a Mombaça, a cartela de remédios, o corte de cabelo, o móvel novo, o armário antigo, o sofá que ficou para trás, o vestido velho, as fotos, o tapete do banheiro, a vizinha, o filho da vizinha, a missa na televisão, a novela, o jornal, o porteiro, o entregador do mercadinho, o Maranguape.
Durante quatro décadas, quem escutava tudo era Luiz. Alisava o gato e a careca, passava a mão bigode. Sem alvoroço, levantava os óculos ou fazia um barulhinho com a boca quando discordava de alguma coisa. Ele não saía de perto, nem interrompia a mulher que desaguava a falar. Ao saber do homem do gás, não pensei nos perigos que cercam o encontro entre um desconhecido e uma octogenária. Apenas quis que fosse Luiz sentado à mesa.
Quando Luiz infartou, ainda estava escuro e não tomou café. Caiu entre o banheiro e o quarto, na casa do Parque São José. Bateu a cabeça, desmaiou e não pronunciou nenhuma palavra. O corpo durou só mais uma semana, antes de ser colocado em um caixão de madeira entupido de flores. Nunca me acostumo com as flores, tão estúpidas e mortas também, impregnadas com aquele cheiro que, ainda hoje, segue grudado em mim mesmo depois da curva, do reflexo, do Himalaia, deste texto. Joana tem mais sorte, talvez. Lembra dele com o aroma do café. Todo dia.
Não fiz um retrato dos dois na cozinha. É mais grave: nunca fotografei Luiz. Eu era jovem e a morte ainda não havia começado a me ensinar a medir o tempo. Também não guardei as palavras, mas com frequência repito cada gesto que era dele para atualizá-lo em mim. A agenda debaixo do braço, o arrastado do chinelo de couro, a mão apoiada no portão, no copo de alumínio, no controle da televisão.
Quando fico triste, desse jeito que estou agora, sinto falta do silêncio do meu avô. Porque eu poderia dizer que estou assustada, que tenho medo, que estou cansada, sem esperar uma palavra de consolo e, ainda assim, sossegar um pouquinho. Talvez essa saudade seja uma fotografia que posso segurar entre os dedos. Um instante de alívio.