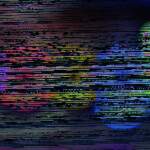Atire a primeira pedra quem nunca errou

Nada como ter sido mãe-quase-menina. Com vinte anos, a vida é carrossel, vertiginosa aventura. O inusitado de cada situação, o estupor, valha-me-deus o menino vomitou, será que vai morrer, parece ser a prova viva do despreparo. Mãe, a eterna desaprendiz. As de primeira viagem pensam que sabem, que vão desenrolar o que vier. Vã ilusão. As crianças espraiam-se em sentimentos, necessidades, urgências por meio de códigos que não constam nos manuais, nem nos conselhos das mães e avós. As verdinhas, para além dos sustos, trazem a vantagem de não se aterem a rígidos preceitos. O menino da narrativa que se segue me levou ao terror e ao paraíso.
Davi, de apenas 8 anos, sem aviso e nem alarde, criou uma espécie de pedagogia da vontade. Ao ser interpelado diante de tarefas da escola – meu filho, você errou, apaga e faz novamente – respondia, com perturbadora naturalidade – errei, foi? Só sei assim. Em seguida, juntava forças e ensaiava a explicação do “certo”, didaticamente compassada. Imaginava: agora, ele vai corrigir. Sob seu olhar firme, escutava engasgada: Vou apagar quando souber acertar, tá? Eu, que amava as transgressões, o arrebatamento dos espíritos livres, me via diante da árida função de disciplinar. No final das contas, pensei: se ele não entende mesmo, como é que vai fazer? Assumimos juntos o erro como o feito possível. Aquilo causou um pandemônio na escola considerada moderna. O menino, diante de toda a sala, insistia em não usar a borracha. A mãe, também.
A história do menino que não queria apagar chegou à diretoria. Consideravam que um único aluno poderia fomentar a desobediência em toda a instituição. Fui até a escola munida da Educação como prática da liberdade. Paulo Freire alertava sobre o risco das mecânicas repetições. Pronto! Para que melhor argumento? Destaquei a passagem em que diz ser o erro “uma forma provisória de saber”. Li em voz alta na reunião de pauta única: deve-se obrigar ou não a criança a corrigir suas tarefas? Querela inusitada. Uma mãe a defender o direito de seu filho de não apagar erros. Era assim comentado nas reuniões de pais e mestres. Eu, PauloFreireanamente, orgulhosa. De nós dois.
Após alguns anos, já professora, me deparo com um escrito de Edgar Morin denominado O erro de subestimar o erro. “A ideia de verdade é a maior fonte de erro que pode ser considerada. O erro fundamental reside na apropriação monopolista da verdade”. Soube que, recentemente, o filósofo, prestes a completar 100 anos, acaba de lançar seu nono livro Lições de um século de vida (Leçons dún siecle de vie). Na obra, que atravessa fases cruciais de sua trajetória, ele destaca equívocos e dificuldades em compreender o presente. “A história humana é relativamente inteligível a posteriori, mas sempre imprevisível a priori.” Não há sustentabilidade no agora. A sabedoria abraça a incerteza.
Durante séculos, o mundo se move pelos princípios da previsibilidade, afora todos os sinais de volatilidade. A vontade de verdade, a pretensão de um discurso universal, como lembra Foucault, atenta contra a vida. Barra o fluxo das vontades, das singularidades. Basta olhar o cenário político brasileiro. O fascismo traz como dispositivo de poder a tentativa de imposição de uma única verdade. Reparem o timbre e o ritmo da voz dos ditadores, dos falastrões, dos muros caiados. Palavras são atiradas para todos os lados, em fogo contínuo. Nada se diz, tudo se engatilha em frases de efeito. No abecedário fascista, os erros ficam para os fracos. O genocida afirma, sem nenhum tremor na fala, quando se trata da pandemia: eu não errei em nada.
Não por acaso, a vontade de verdade moveu milhões de brasileiros a votarem em um homem que se elegeu proclamando os erros da esquerda. Por meio de uma narrativa fantástica, o personagem constrói uma retórica de poucas palavras. Como diz Roland Barthes, o mito é uma fala qualquer, escolhida pela história. Jamais, auto atribuição. A trama imaginária que nos enreda demanda bem mais que estratégicos movimentos no tabuleiro político. O desejo de uma fortaleza imaginária ecoa da voz do fascista até os corações de pedra e os nervos de aço. Eles estão em toda parte. Nos almoços de família, nas praças, no trabalho, nos bares e afetos de infância. Árduo e longo é o ato de desfazer os fluxos da política do mal. O impeachment das forças sombrias.
O ensaio de erros do pequeno menino, o suspenso ato de apagar, trazia ali uma posição, um pensamento. Não havia no gesto de infância qualquer filosofia, aforisma, defesa de razão. Apenas despretensiosa insubmissão. Hoje o mundo gira em direção contrária. Palavras-armas, polícias discursivas, têm criado uma espécie de vida bruta. Palavras sob a mira das borrachas.
Diante da tentativa de se criar desertos na alma, vale mirar com vagar o que não se vê. Para que não sejamos tragados pelo espetáculo das motocicletas, pelos gestos de arminha, pelas transfigurações de humor e pela verborragia desdenhosa do homem que fala em nome do país. Alguns só enxergam o que se impõe ser visto. É assim desde a escola, desde a ciência, desde a dimensão pragmática da vida cotidiana. Seguimos exilados da percepção dos atos falhos, daquilo que não se diz com todas as letras, do que ainda não tem forma definida.
Espaços vazios, sem materialidades, povoam as células. Penso que há muita filosofia na física quântica. Dentro de um átomo, no seu núcleo, os prótons condensam energia, frequência e vibração em aparentes vácuos. As flutuações reverberam entre distâncias. Achamos bonito escutar vozes, como a de Ailton Krenak, dizerem que estamos todos conectados. Que forças sem nome operam em silêncio? A pandemia mostrou o poder invisível da contaminação de um vírus. Aquilo que não vemos nunca foi tão factível. Assim como a extrema irracionalidade de um homem sem poder no poder.
Sim, Davi, aprendi desde você a suportar rascunhos, o que aparece fragmentado entre travessias. Como acertar diante do terror, do medo, dos atentados contra à vida? Por onde ir? Perscrutar o aguardo da hora de apagar pode ser bom atalho. Já se fala que um terço dos que erraram suas escolhas se arrependem do voto. A tragédia manifesta com todas as letras sua mensagem. Apagaremos o que não será esquecido.
Apartados do paraíso, vemos se desenhar a brevidade da vida. Talvez seja essa a mais poderosa lição contra o fascismo. Ver o que se esgarça, o que já não existe mais. “Quando tudo se desfaz”, como diz a escritora budista Pema Chödrön, é providencial deixar espaço para o não saber. Reinventar em atos provisórios, nas rasuras das formas, outras lições de vida, tal qual Morin.
A borracha da suprema verdade fica entre mãos dos que acreditam escapar da impermanência da condição humana. Mitos sem mito nem nada. Sem teto nem nada. Os diretores, os ditadores, os machistas, os genocidas, os homofóbicos, os racistas, os matadores da potência da vida. Apago quando souber acertar. Esses, artífices da letra que ainda soletra. Da aventura que tinge coragem.
Visto-me de vermelho. Entoo o grito de revolução dos desassossegados, dos errantes, dos dispostos a reescrever histórias. Átomos velozes no vácuo de uma liberdade que não se apaga.